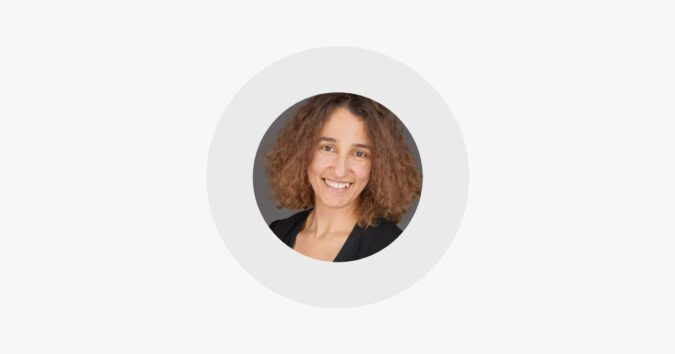
Da mesma forma que muitas pessoas se sentem atraídas por acidentes de carro, eu resisto dificilmente a livros radicais e argumentos aparentemente absurdos. Um bom exemplo aconteceu-me com o livro O direito ao sexo, de Amia Srinivasan, uma coleção de ensaios construídos em torno da seguinte premissa: “O sexo é uma coisa cultural que se faz passar por uma natural.”
Há um duplo sentido nesta ideia que decorre do duplo sentido permitido pela palavra “sexo”: não só não existe algo como o sexo biológico, uma vez que “o sexo é já em si o próprio género camuflado”, como também “o sexo, que consideramos um dos atos mais privados é, na realidade, uma coisa pública.”
O subtítulo do livro é Feminismo no século XXI e isso ajuda-nos a enquadrar esta forma de pensar: o que uma certa corrente do feminismo fez nas últimas décadas foi uma radicalização dos dois princípios consagrados pela revolução feminista da década de 1960. Por um lado, absolutizar o conceito de género ao ponto de considerar que todos os aspetos que decorrem da pertença a um dos sexos estão culturalmente carregados (o mesmo é dizer, servem um propósito político): falar em sexo feminino significaria já a indicação de que esse grupo tem como função servir os homens.
Por outro lado, a autora considera que o próprio ato sexual é político: as emoções que sentimos, quem desejamos e quem é desejado são aspetos culturais e políticos – de acordo com “regras que se aplicam a tudo isto [e que] foram estabelecidas muito antes de termos chegado a este mundo”. E não, a autora não está a falar do Criador ou da Natureza, mas da “patriarquia”, que define as regras que determinam as dinâmicas de poder e exploração na sociedade. E se tudo é político, tudo pode ser reformulado, nomeadamente as nossas preferências sexuais, para atender a “um dever de transfigurar, o melhor que pudermos, os nossos desejos”.
É desejável reformular o desejo para termos uma sociedade com menos discriminação, pelo que a ideia de “body positivity” se revela fundamental: “Black is beautiful e Big is beautiful não são apenas slogans de emancipação, mas sim propostas de reavaliação dos nossos valores.” Recusar o desejo por estes corpos ou por corpos deficientes ou trans é, nesta medida, uma escolha política e que deve merecer a nossa autocrítica.
Amia Srinivasan assume as consequências do seu argumento: sabe que a luta pelos direitos LGB assentou na ideia de que se trata de uma condição natural – e não de uma preferência sexual – pelo que não faria sentido discriminar um homossexual por algo de que não era responsável. O mesmo valeria para o argumento trans, que veicula a ideia de que não foi uma escolha ter nascido no corpo errado. Mas, para a autora, se este tipo de argumentação teve utilidade política, ele deve agora ser abandonado no contexto das tendências construtivistas e antiessencialistas do feminismo. Afinal, não há nada de inato ou natural…
Como Srinivasan reconhece, recorrer ao fator natural é colocar-nos no domínio da argumentação liberal. Já o reconhecimento de que tudo é político coloca-nos no plano da permanente modificação do mundo: se não há nada de natural ou inato e tudo é maleável, então tudo pode ser reconstruído. A heteronormatividade poderia ser afastada se escolhermos sentir atração por outros corpos e a normatividade binária desaparece se deixarmos de olhar para o mundo como se só existissem dois sexos. É neste sentido que Judith/Jack Halberstam e Judith Butler, em conversa, chamam a atenção para o facto de a “direita” ter razão quando considera que a teoria do género está a transformar o mundo: a teoria do género tem realmente esse objetivo.
A honestidade de Halberstam e Butler transporta-nos para o domínio das lutas culturais: se tudo é maleável e se tudo é político, então tudo se resume a uma luta pelo poder. Mas a consequência deste argumento é que deixa de ser possível levantar objeções sensatas e racionais ao comportamento do outro lado. Se tudo é política e luta pelo poder, como denunciar como abusivas as decisões de Trump?
Uma forma de sair deste paradigma de conflito permanente é reintroduzir a natureza e a realidade e consagrar direitos a partir delas. Este mecanismo liberal não elimina a luta política, mas garante que os direitos individuais não se tornam o alvo da disputa política.
É claro que a linguagem importa, o vocabulário que usamos condiciona a forma como pensamos e não há consciência do mundo sem conceitos e os conceitos exigem palavras. Mas, como seres vivos, fazemos parte de um mundo material que contextualiza a nossa linguagem, o nosso vocabulário, os nossos conceitos e as nossas palavras. “Reality matters, sex matters”, como tem dito repetidamente Helen Joyce. E foi precisamente o que os juízes do Supreme Court of the United Kingdom reconheceram no dia 16 de abril, quando estipularam que há “caraterísticas biológicas que fazem de um indivíduo um homem ou uma mulher” e que tal não resulta de autodeterminação ou de uma qualquer declaração emitida por serviços públicos. Esta é a única forma de garantir os direitos individuais conquistados nas últimas décadas por mulheres e homossexuais.
Embora a decisão tenha sido recebida em êxtase por tantas pessoas, Brendan O’Neill captou bem a ambiguidade dessa receção:
“Estou encantado com o facto de o Supremo Tribunal ter decidido que uma mulher é legalmente definida como uma pessoa com caraterísticas biológicas femininas. Mas estou chocado com o facto de, aparentemente, termos precisado de cinco juízes para nos dizerem algo que a nossa espécie sabe desde que descemos das árvores.”
Regressemos a Judith Butler. Naquela conversa, Butler afirma: “O género binário nunca mais será o mesmo.” É possível que as académicas que desenvolvem o seu trabalho em torno da teoria do género queiram de tal forma ter um impacto relevante no mundo que lhes seja fácil cair na ilusão de que as suas ideias serão imortalizadas. Mas trata-se da habitual arrogância académica, particularmente engraçada por conter laivos da arrogância “ocidental” que as teorias críticas tanto gostam de denunciar: na verdade, a ideia de que o sexo é não binário é não só profundamente excêntrica no mundo ocidental, como tem um impacto quase nulo nas restantes partes do mundo.
Mas também se trata de um sintoma curioso da doença provocada pela torre de marfim: a que leva a que uma minoria intelectual que desenvolve ideias completamente afastadas da realidade e das quais a vasta maioria das pessoas discorda reclame para si a posição de defensores da democracia (mais sobre isto em breve).
Curioso, mas não divertido uma vez que toda esta insanidade provocada por excentricidades académicas tem deixado atrás de si um lastro de vítimas, apanhadas no meio desta loucura. Em novembro, Louise Perry defendeu, a partir da notícia de que Alexandria Ocasio-Cortez tinha eliminado a indicação dos pronomes da sua biografia no X, que a “onda trans” estaria a perder força. O problema é que esta não foi uma tendência política qualquer:
“ao contrário de uma tendência de moda tola, o movimento trans infligiu um custo humano terrível. As pessoas que fizeram a transição médica – muitas delas jovens mulheres muito vulneráveis – ficarão permanentemente desfiguradas e, provavelmente, não chegarão a envelhecer. Neste momento, a maioria delas não tem consciência de que está prestes a ser abandonada pelos seus aliados progressistas [que avançarão] para outra tendência, e não haverá qualquer pedido de desculpas. As vítimas do transgenderismo nunca serão curadas, serão apenas esquecidas.”
Afinal, talvez seja verdade que ideias académicas desenvolvidas em gabinetes das Humanidades podem mudar o mundo. Mas dificilmente isso acontecerá com um sentido positivo.
PS: Mais informações sobre o curso Wokismo: Teoria e Prática e o lançamento do curso Introdução à Cultura Ocidental (para jovens) aqui: https://pensamentolento.com/.