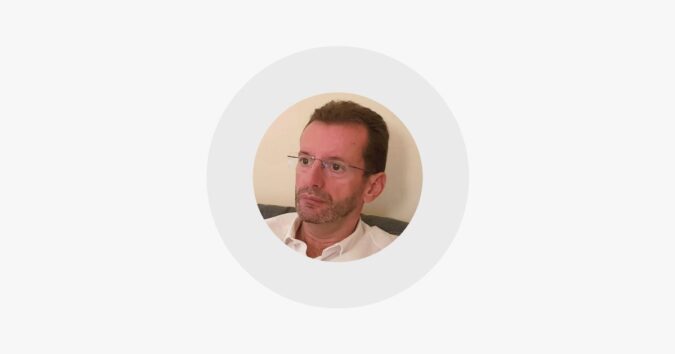
1 Não é obrigatório saber tudo e mais alguma coisa para dar uma opinião sobre os mais variados assuntos. Contudo, o bom senso devia aconselhar a que essa opinião fosse cometida.
Um dos temas que é mais confundidos por “especialistas” é a União Europeia (UE). Ora, essa confusão emerge da mistura de conceitos e do posterior relacionamento destes em comparações que acabam por aumentar a confusão. Quando comparamos a UE aos EUA, devemos ter em mente que tanto o modelo como o nível de integração subjacente a ambos é diferente. E as confusões aumentam quando as comparações abordam a prática política em temas como fiscalidade, defesa e segurança e até o nível de democracia (na “Europa”).
Para perceber como funciona a UE é fundamental ter noções de teorias e modelos de integração – a UE não é um Estado federal – e, sobretudo, ler os Tratados Europeus (o Tratado de Lisboa engloba dois Tratados – Tratado da União Europeia e o Tratado de Funcionamento da União Europeia). Não sendo o objectivo desta reflexão elaborar um artigo científico, farei apenas alusões esperando estimular a curiosidade para saber mais.
2 Hesíodo, na sua Genealogia dos Deuses (Theogonia), poderá ter sido o primeiro a referir expressamente o nome Europa. Anaximandro e Hecateu poderão tê-lo sido num contexto geográfico. As ideias sobre uma entidade com capacidade supra regna (literalmente acima dos reinos) são antigas (convém não esquecer as experiências de Ligas e/ou de Confederações na Grécia Antiga). Reemergiram na Idade Média com outro fulgor fruto das discórdias e conflitos entre os poderes temporal e secular (os entendimentos distintos do Papa e do Imperador na relação entre ambos os poderes que se verificavam desde Carlos Magno acentuaram-se depois do divisio regnorum). Os contributos vieram de dentro e de fora da Igreja.
Com o objectivo da paz, ambos expressaram uma ideia de universalidade, quer de uma monarquia papal, quer de uma monarquia imperial. Roger Bacon, no seu Opus Tertium, refere a Igreja de Deus e a República dos fiéis (ecclesia Dei et respublica fidelium). As ideias de paz evoluíram com o tempo. Alguns exemplos disso são:
- 1305-07 – Pierre Dubois (De Recuperatione Terrae Sanctae) que defendia a noção dos Estados Unidos da Europa baseados na conciliação por arbitragem;
- 1462-65 – George of Poděbrady, rei da Boémia, que propôs, em termos cristãos, um Tratado pelo qual, através de um parlamento e outras instituições comuns, os reinos da Europa comprometiam-se a resolver as suas diferenças por meios pacíficos, i.e., concepção de uma federação europeia, com limitação das soberanias dos Estados;
- 1693 – William Penn (The Essay Towards the Presente and the Future Peace of Europe by the Establishment of na Europe Diet, Parliament or States), que refere a concepção de uma federação, com sistema de representação dos países no Parlamento por importância económica e demográfica;
- 1713 – Abade de Saint Pierre (Project pour rendre la Paiz Perpéctuelle en Europe) que preconizava a criação de um Senado europeu com competências legislativas e judiciárias, como garantia da paz;
- 1795 – Immanuel Kant (Philosophical Essay on Perpetual Peace) refere a ideia de uma confederação de Estados Europeus baseada nos princípios do direito internacional;
- 1814 – Saint Simon (De Réorganisation de la Societé Européenne) que visava uma Federação Europeia através de formas de aproximação e solidariedade entre os povos europeus como caminhos de ferro, túneis, grande bancos, empresas poderosas, livre-câmbio, etc..
3 Feita esta breve resenha vou concentrar-me nestes modelos: Confederalismo (Hans Kelsen), Funcionalismo (David Mitrany), Neo-funcionalismo (Ernest Haas) e Federalismo (Alexander Hamilton/James Madison). Contudo, antes de o fazer, é necessário referir o seguinte:
- A integração visa a formação de uma comunidade através de um processo gradual que implica diferentes níveis, oscilando desde o somatório das partes até à existência de uma entidade que impõe a sua vontade sobre as partes;
- O vector fundamental é a soberania – que Jean Bodin definiu como “le pouvoir absolu et perpétuel d’un État-nation”, nos Seis Livros da República [De Republica libri sex (1576)] – a entidade que não conhece superior na ordem externa nem igual na ordem interna, e até que nível os Estados prescindem ou não dessa soberania;
- O instrumento para a associação de Estados são os Tratados.
Estes pontos ajudam a ver diferenças entre os EUA e a UE. Enquanto o processo de integração americano realizou-se para formar um único Estado soberano, a integração europeia fez-se para unir vários Estados soberanos numa Comunidade.
Curiosamente, quando ainda não eram um Estado soberano, as 13 ex-colónias britânicas ratificaram um Tratado – os Artigos da Confederação e a União Perpétua (1781) – formando uma Confederação. Só em 1789, depois de ratificada a Constituição, é que os EUA passaram a ser uma república federal soberana. Actualmente, existem 51 constituições nos EUA. Uma federal e cinquenta estaduais. Apesar da supremacia da primeira existe um nexo de complementaridade entre todas.
Dito isto, saliento algumas características dos 4 modelos acima referidos:
- O Confederalismo assenta num pacto entre Estados-nações independentes que mantêm as suas prerrogativas de soberania interna intactas caracterizando-se fundamentalmente pelo relacionamento exclusivo ao nível estadual e pela ausência de comunicação entre a confederação e os cidadãos dos vários Estados;
- O funcionalismo pressupõe a existência prévia de uma “comunidade psicossociológica” anterior à aproximação política. Ou seja, a integração deve iniciar-se pela aproximação dos cidadãos dos diferentes Estados que participam no processo:
- O Neo-funcionalismo diz que a integração deve iniciar-se pela criação de mecanismos institucionais de carácter supranacional, com poderes de decisão atribuídos pelos Estados-membros em áreas sectoriais, sendo essas áreas reforçadas e ampliadas através do processo de saltos qualitativos (spill-over) nas matérias objecto da integração.
- O Federalismo, embora fundamentando no princípio da subsidiariedade, ou seja, o exercício do poder deve estar ao nível mais próximo do cidadão, sustenta-se numa visão contratualista que exige a perda de soberania por parte dos Estados em favor de uma Entidade que passa a decidir.
4 Os modelos de integração podem ser caracterizados e classificados em dois eixos – as Variáveis do processo (político-institucional/socioeconómicas) e a Natureza da comunidade (intergovernamental/supranacional). Nas variáveis do processo, o gradualismo pode acontecer ao nível das instituições políticas e de poder (político-institucional) e/ou visando sectores da actividade social (socioeconómicas). Por sua vez, a natureza da Comunidade varia desde o somatório da vontade dos Estados (intergovernamental) até à existência de uma Comunidade que imponha a sua decisão aos Estados (supranacional).
Como os seus Estados-membros só parcialmente transferiram soberania, mantendo capacidades soberanas, a UE não é uma federação, mas uma organização híbrida com aspectos supranacionais e intergovernamentais. Desse modo, nível de integração da UE deve ser enquadrado no neo-funcionalismo.
As competências da UE, que decorrem das atribuições expressas no Tratado de Lisboa – Exclusivas (artigo 3.º), Partilhadas (artigo 4.º) e de Apoio (artigo 6.º) –, demonstram esse enquadramento.
Referi duas vertentes: uma supranacional e uma intergovernamental. Esta é representada pelo Conselho Europeu. Por sua vez, os órgãos supranacionais da União são: Parlamento Europeu, Comissão Europeia e o Conselho da União Europeia.

5 Como existem políticas integradas e não-integradas na UE, estas também ajudam à distinção entre a intergovernamentalidade e a supranacionalidade. Nem a política fiscal, nem a Política Externa e de Segurança Comum são políticas integradas. Como tal, fazem parte da vertente intergovernamental, dependendo da vontade dos Estados-membros. Isto exige um método de cooperação no Conselho Europeu, significando que todas as decisões nesta matéria só podem ser tomadas por unanimidade, i.e., com o voto favorável dos 27 Estados-membros.
Saliento que mesmo que todos os Estados-membros concordem, não é possível adoptar actos legislativos por a UE estar proibida de o fazer nestas matérias. Logo, é impossível tomar decisões vinculativas de carácter geral. Basta ler o n.º 1 do art.º 31º, que dispõe o seguinte:
“As decisões ao abrigo do presente capítulo são tomadas pelo Conselho Europeu e pelo Conselho, deliberando por unanimidade, salvo disposição em contrário do presente capítulo. Fica excluída a adopção de actos legislativos. Qualquer membro do Conselho que se abstenha numa votação pode fazer acompanhar a sua abstenção de uma declaração formal nos termos do presente parágrafo. Nesse caso, não é obrigado a aplicar a decisão, mas deve reconhecer que ela vincula a União. Num espírito de solidariedade mútua, esse Estado-Membro deve abster-se de qualquer actuação susceptível de colidir com a acção da União baseada na referida decisão ou de a dificultar; os demais Estados-Membros respeitarão a posição daquele. Se os membros do Conselho que façam acompanhar a sua abstenção da citada declaração representarem, no mínimo, um terço dos Estados-Membros que reúna, no mínimo, um terço da população da União, a decisão não é adoptada.”
E este artigo também ajuda a esclarecer como devem agir os Estados-membros da UE com posições individuais contrárias ao consenso. Refiro-me, no que respeita ao apoio dado pelos Estados-membros da União à Ucrânia, à Hungria.
6 Por fim, uma palavra sobre a democracia da e na União. Não querendo ser exaustivo, direi que três vectores são fundamentais para a existência de uma democracia: 1) soberania detida pelo nível mais baixo de autoridade, i.e., população; 2) igualdade perante a lei; e 3) normas e conduta social em conformidade com os anteriores dois preceitos. Por outras palavras, Separação dos Poderes e Estado de Direito.
No caso da UE, para além do princípio da subsidiariedade, os Tratados expressam inequivocamente os princípios da liberdade, democracia, igualdade. Estado de direito, promoção da paz e da estabilidade (artigo 2.º).
Outra maneira de abordar a questão é esclarecer as diferenças entre regime, forma de governo e sistema de governo, conceitos que têm significados diferentes e um papel específico na organização política dos Estados, incluindo nos Estados-membros da União. A tabela seguinte mostra isso.

Na UE coexistem dois níveis de democracia. No que se refere aos órgãos com capacidade de decisão política, uns são preenchidos por sufrágio universal enquanto outros são-no por indicação e/ou nomeação política dos governos dos Estados-membros.
O facto dos governos dos diversos Estados-membros resultarem da vontade popular expressa em eleições nacionais dá-lhes legitimidade para indicarem pessoas para os órgãos da UE.
Se quiserem incluir a União nos parâmetros acima indicados, então a UE é uma organização onde vigora o regime democrático e onde coexistem vários Estados-membros com distintas formas e sistemas de governo.
Assim, não é possível dizer que não há democracia na União Europeia.