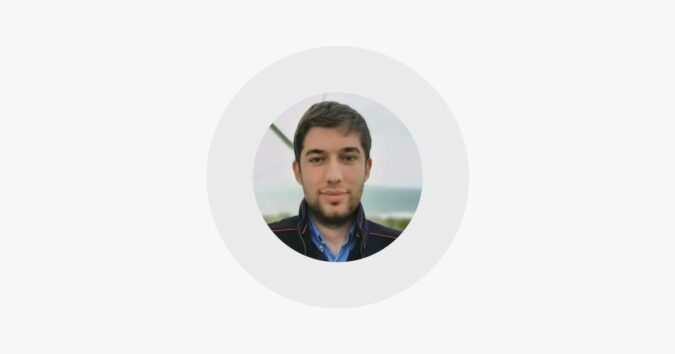
Não vale a pena esconder. Desde 2013, muitas vozes criticaram o Papa Francisco. Puseram em causa a sua legitimidade e ortodoxia. Acusaram-no de ser um desastre geopolítico e diplomático. De ser, unicamente, um boneco dos média. Na semana passada, aliás, certo comentador disse dele que havia “sido um homem bom”, mas que não tinha “mudado nada na Igreja”. Cheguei a pensar que se tratava de um elogio, no meio das classificações revolucionárias com que se descrevia o seu pontificado, mas não era.
As árvores conhecem-se pelos frutos, diz o velho adágio evangélico. E no passado sábado percebemos que Bergoglio não era apenas “um homem bom” ou bem-intencionado. Como chefe de estado, foi reconhecido pelos seus pares. Como crente, foi reconhecido pelos seus irmãos católicos e não católicos. Depois das exéquias é redutor dizer que Francisco foi o Papa do Povo ou o Papa favorito dos não crentes. Tê-lo-á sido certamente, mas não o foi em detrimento dos restantes. É verdade, não sei se o Papa mudou alguma coisa na Igreja. Ainda assim, se o certo comentador quis afirmar que estes 12 anos foram apenas cosmética, tenho a ousadia de lhe dizer que está errado. Bastaria circular mais pelas igrejas, conhecer a sua diversidade, falar com as comunidades, ouvir os pronunciamentos dos Bispos. Mas não lhe peço esse esforço. Limito-me a dar exemplos mais visíveis.
Foi o Cardeal Giovanni Battista Re que presidiu ao funeral do Papa Francisco. Na homilia, fez questão de citar o empenho do Papa na construção da Paz e na resposta humana à crise dos refugiados e das migrações. Recordando Francisco que, durante o seu pontificado havia já lembrado as palavras de Bento XV antes da Iª Guerra Mundial, disse que “a guerra deixa sempre o mundo pior do que estava”, definindo-a como “uma derrota dolorosa e trágica para todos”. Ora, em cada um desses momentos, sempre que Battista Re tocava nestes pontos centrais, a Praça de S. Pedro irrompia num aplauso de magnitude difícil de descrever.
Além disso, é inevitável falar da imagem que nos congelou diante das transmissões. Mas não só daquela em que Trump e Zelensky surgem juntos a conversar, quase como se se estivessem a confessar um ao outro. É verdadeiramente impactante vê-los, com Macron e Starmer, a conversar tranquilamente, num primeiro encontro a quatro, olhos nos olhos. Bem sei que, tal como a árvore, são precisos frutos, que esta “cimeira” se pode tornar, facilmente, uma anedota, mas há nisto algo de muito próximo àquilo que foi a forma de estar do Papa, acima de tudo naquela que foi a sua “reforma” mais profunda, a que se dá o nome de Sinodalidade: a vitalidade do fruto não cresce espontaneamente, mas na força do processo. E o facto desse processo poder começar debaixo do teto da Basílica de S. Pedro, mostra como a Igreja, e as igrejas, ainda podem ser espaços de imunidade, lugares transeptos, deambulatórios, onde muitas vidas, expectativas e desejos, tantas vezes contraditórios, se cruzam e convivem.
Não tenho um medidor de mudanças, tal como os geólogos têm a escala de Richter para avaliar a força dos terramotos. Mas parece-me que este tempo não foi em vão. Não sei se foi uma mudança. Mas aconteceu algo para aplausos se ouvirem na Praça de S. Pedro quando se denuncia a “cultura do descarte”, e não quando se enunciam clamores devocionais ou piadosos. Como deve ter acontecido alguma coisa para líderes políticos pouco flexíveis e pouco dados à demonstração de fraqueza, sentirem que uma igreja é um espaço seguro, ou que lhes exige uma reverência a que não estão acostumados.
Ainda assim, continua a chocar-me a arrogância e a altivez com que ainda ouço tantos falarem do Cristianismo e, partindo dele, de todas as restantes religiões, naquela postura infantil e ignorante que reduz os crentes a mentecaptos e as religiões a terrorismo. A todos esses a melhor coisa que temos a dizer é: precisamos de falar. Essa é a última lição de Francisco.
PS: Aproxima-se o conclave. É, aliás, possível que, daqui a uma semana, já tínhamos um novo Papa. É importante ter em conta duas coisas. A Igreja é cada vez mais verdadeiramente universal. E isso não é só um hino de tolerância e concórdia. Se na Europa seria impensável proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, há regiões do Mundo onde a homossexualidade em si mesma é um crime punível com pena de morte. Isto dá-nos um exemplo da tarefa hercúlea que um Papa, e a Igreja, têm em mãos. Esta ideia eurocêntrica na qual, desde de Roma, se vai espalhar a civilização é muito questionável, até porque sem cultura, sem realidade, não há Evangelho. E isso leva-nos ao segundo aspeto. A questão neste conclave, como Austen Ivereigh escreveu a semana passada no Financial Times, não é doutrinal. A diversidade dos cardeais, as diferentes culturas que representam, deve ser vista à luz da pergunta sobre o que significa hoje ser conta-corrente. Diante de um Mundo que mudou, o que fazer? Diante de um certo declínio do cristianismo institucional devemos voltar ao passado e dobrar a aposta, ou acordar para a conversão que Francisco incorporou tão poderosamente? Não nos admiremos é com uma coisa. No tempo de Jesus, todos estavam à espera de um rei guerreiro, e sai-lhes o filho de um carpinteiro. Pode ser que nos aconteça o mesmo a partir de 7 de Maio.