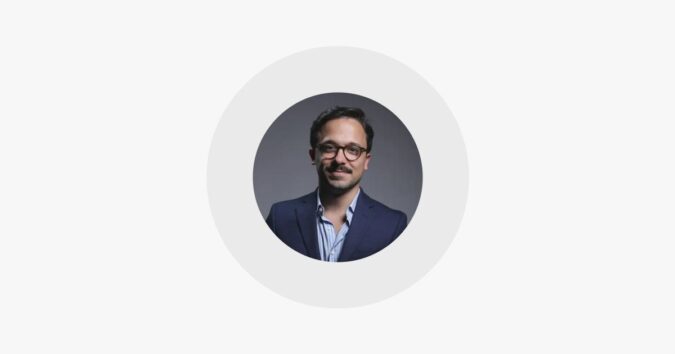
Pode não aquecer corações, mas o comércio livre sustenta salários, preços justos e estabilidade. Há séculos, os defensores do livre mercado alertam para as consequências devastadoras do protecionismo. Ludwig von Mises, um dos principais pensadores liberais do século XX, escreveu em Liberalismo (1927) que as tarifas alfandegárias são entraves ao progresso económico. Hoje, esse alerta volta a ser urgente. Donald Trump reacendeu a guerra comercial com a China e coloca agora a Europa numa encruzilhada.
O protecionismo dominou a política europeia no período mercantilista, entre os séculos XVI e XVIII, quando se acreditava que o comércio era um jogo de soma zero e que a riqueza dependia de superavits e reservas de metais. Foi contra isso que se ergueram Adam Smith e os economistas clássicos, demonstrando os benefícios mútuos da especialização e do comércio livre.
Quando Mises escreveu Liberalismo, o mundo passava por um momento de recaída. Após a Primeira Guerra Mundial, muitos países voltaram a fechar-se. O protecionismo ganhou força, ignorando tudo o que a ciência económica já tinha estabelecido. Foi neste ambiente que se abriram as portas a uma nova vaga de nacionalismo económico, instabilidade e antagonismos internacionais. Um caldo que acabaria por desembocar na Segunda Guerra Mundial.
Hoje, a União Europeia assiste, hesitante, à escalada de tarifas sobre automóveis, aço e outros bens. Os argumentos de Trump são familiares e talvez apetecíveis para quem não conhece a história: proteger empregos, equilibrar a balança comercial, responder a práticas desleais. Mas Mises desmontou essas justificações há quase 100 anos. Para ele, a liberdade de comércio é extensão da liberdade individual. Limitar o comércio é prejudicar o bem-estar geral para favorecer interesses particulares.
No capítulo dedicado ao comércio externo em Liberalismo, Mises sublinha que a defesa do comércio livre não é uma opinião entre muitas outras, é a conclusão inevitável da teoria económica clássica. Demonstrar os seus benefícios tornou-se, desde Adam Smith e David Ricardo, o eixo fundamental da análise económica. O argumento é simples: cada país tem vantagens competitivas específicas, onde deve concentrar-se por conseguir fazer melhor e trocar esses produtos com os outros, aumentando a eficiência global. Esta lógica, conhecida como vantagem comparativa, é tão sólida que Mises afirma que nenhum argumento protecionista sobrevive a um exame sério — são todos, nas suas palavras, “facilmente refutáveis”. Ainda assim, nos anos 1920, tal como hoje, o mundo regressava ao protecionismo.
Mises denuncia a contradição central dessas políticas: todos os países querem exportar mais, mas importar menos. Este impulso é ilógico, porque o comércio é, por definição, uma troca. Se todos querem vender mas ninguém quer comprar, o sistema entra em curto-circuito. A consequência inevitável é o colapso da divisão internacional do trabalho: os países deixam de se especializar naquilo que produzem melhor e tentam fabricar tudo internamente, mesmo que a custos mais elevados ou com menor qualidade. Ao forçar a produção a deslocar-se de locais mais favoráveis para outros menos eficientes, as tarifas distorcem os incentivos naturais do mercado e reduzem a produtividade global. Essa quebra na eficiência resulta num crescimento económico mais lento, numa descida dos salários reais (que estão dependentes da produtividade) e num aumento dos custos para consumidores e empresas. O protecionismo, ao contrariar a lógica da cooperação económica, transforma o comércio num jogo de perdas mútuas.
Além disso, Mises observa que o comércio livre não depende apenas da ausência de tarifas sobre bens, mas também da livre circulação de capital e trabalho. No século XIX, apesar de limitações iniciais, o mundo assistiu a uma abertura progressiva: o capital tornou-se mais móvel, a emigração europeia ganhou escala, e a integração económica aprofundou-se. Era o ambiente ideal para que a lógica da especialização e da cooperação internacional florescesse. Ainda assim, com a inversão de rumo nas décadas seguintes, essa lógica foi interrompida. Mises dá o exemplo da Alemanha, que no final dos anos 1870 recuou no comércio livre por receios nacionalistas. Temia perder emigrantes para outras culturas e protegeu agricultura e indústria com tarifas. Essa estratégia permitiu cartelização e preços internos mais altos, distorcendo o mercado e reduzindo a eficiência — tudo em nome da preservação identitária e política nacional.
Para Mises, as tarifas não visam melhorar a economia como um todo, mas proteger sectores específicos — frequentemente por influência de grupos organizados. Isolados da concorrência, esses sectores tornam-se menos eficientes, inibem a inovação e impõem custos mais altos à sociedade. A consequência inevitável é o empobrecimento relativo, suportado por toda a economia em benefício de uma minoria influente. Mais do que uma questão doutrinária, o comércio livre representa, para Mises, um imperativo civilizacional com consequências práticas e morais. Promove a paz, a prosperidade e a interdependência entre nações. O protecionismo, pelo contrário, cria tensões, alimenta rivalidades e empurra o mundo para o conflito. A história da primeira metade do século XX veio depois confirmar esse diagnóstico com trágica clareza. Quase um século depois, os mesmos impulsos intervencionistas regressam com nova roupagem.
Já em abril deste ano, Donald Trump reabriu com força a frente protecionista. Anunciou uma tarifa universal de 10% sobre todas as importações e impôs sobretaxas específicas a vários países, incluindo uma tarifa que no momento em que escrevo já vai nos 145% sobre produtos chineses (o caráter errático da sua aplicação e alteração gera incerteza, o que multiplica ainda mais os danos deste tipo de políticas). A China respondeu com tarifas de 84% sobre bens norte-americanos, reacendendo uma guerra comercial em plena desaceleração da economia global.
A Europa não foi poupada. As propostas da União Europeia para um acordo “zero-for-zero” que eliminasse tarifas sobre todos os bens industriais foram rejeitadas pelos EUA. Como resposta, Bruxelas anunciou tarifas retaliatórias no valor de até €26 mil milhões, incidindo sobre produtos norte-americanos escolhidos por serem estrategicamente sensíveis e simbolicamente representativos. No entanto, importa notar que a própria União Europeia mantém uma política marcadamente protecionista no sector agrícola, com tarifas elevadas e subsídios que impedem a concorrência externa neste domínio. O impacto destas tensões comerciais já se faz sentir nos mercados financeiros e nas cadeias de abastecimento internacionais.
A narrativa é a mesma de outrora: proteger o emprego, castigar concorrência desleal, recuperar soberania económica. Mas os resultados são previsíveis: instabilidade, custos acrescidos para consumidores e empresas, e um ambiente de desconfiança que desincentiva o investimento. Se o protecionismo enriquecesse países, a Venezuela era uma potência mundial.
A União Europeia enfrenta pressões internas por retaliação e, externamente, o desafio de manter relevância num sistema comercial em mutação. Responder à agressividade comercial com as mesmas armas pode parecer instintivo, mas seria repetir erros antigos com custos renovados. A Europa deve resistir ao impulso primário de retaliar ou embarcar na sua própria narrativa de protecionismo e, em vez disso, encarar a atual irresponsabilidade do executivo dos EUA como uma janela de oportunidade. Pode posicionar-se como o novo centro racional da política comercial internacional, aprofundando relações com novos parceiros e reforçando os laços já existentes.
Uma postura firme e coerente, baseada em abertura, estabilidade e previsibilidade, tem potencial para aumentar a influência económica e política da União Europeia. Ao tornar-se o pólo mais fiável para o investimento global e para a cooperação económica, a Europa pode inclusive colocar o euro numa trajectória de consolidação como moeda de reserva internacional, alternativa ao dólar. Um passo assim teria consequências duradouras: fortaleceria a autonomia estratégica europeia e reequilibraria a arquitetura económica global.
O protecionismo é um impulso político de curto prazo, mas as suas consequências são prolongadas e negativas. A Europa tem a oportunidade de liderar pelo exemplo, consolidar o comércio livre e transformar a atual crise num momento de afirmação. Para isso, deve desbloquear acordos pendentes como o UE–Mercosul e relançar negociações com parceiros estratégicos como Índia, ASEAN e África. Deve também reformar a Política Agrícola Comum, eliminando tarifas e subsídios que prejudicam a concorrência, e posicionar o euro como alternativa ao dólar nos fluxos comerciais internacionais. Essa seria a melhor resposta à irresponsabilidade da política comercial norte-americana e a mais próxima do espírito dos valores europeus. Manter-se fiel ao comércio livre pode não render aplausos imediatos. Mas é o único caminho com futuro.